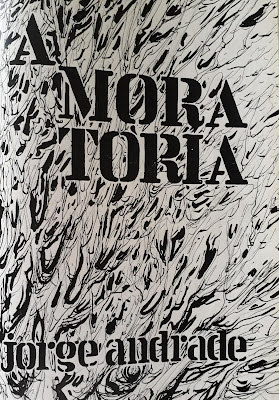Grandes
descobertas musicais e culturais através do teatro e do cinema.
Nestes tempos de recolhimento nossas
lembranças mais remotas vêm à tona e depois que escrevi sobre como descobri Begin the Begin e Cole Porter, tenho
pensado muito sobre como a música teve fundamental importância em minha
formação de receptor/espectador. Uma
viagem desde a primeira infância até os dias de hoje demonstram como tomei
contato e descobri a beleza da música em muitos espetáculos a que assisti.

Eu morava na Rua Joaquim Ferreira,
travessa da Rua Carlos Vicari, próximo de
onde hoje está o SESC Pompeia e ia constantemente visitar a Nonna Carmella, minha avó paterna que
morava do outro lado da rua, onde hoje está o supermercado Sonda. Todo sábado o Nonno Mimi (apelido de Domenico) jogava baralho com o Benjamin, o
Menegho (também apelido de Domenico) e outros companheiros e lembro que eles
fumavam muito tanto charuto como cachimbo e cuspiam numa escarradeira de
madeira cheia de areia; o cheiro daquele fumo me vem ao olfato até hoje, setenta
anos depois, assim como a visão nada agradável daquela escarradeira.
Eles jogavam baralho na copa enquanto
eu e a nonna ficávamos na cozinha
ouvindo rádio e dividindo uma garrafinha de guaraná da Brahma, que se
distinguia daquele da Antartica por ser mais azedinho (agora o paladar me
trouxe outra lembrança!). A nonna
ouvia uma novela que tinha o patrocínio do Óleo de Peroba e o prefixo da mesma
era uma música lacrimosa chamada A Lenda
do Beijo. Essa talvez seja a lembrança musical mais antiga que eu tenho.
Devia ter cerca de sete anos e já tinha experiência sensorial considerável!
Nessa época eu fazia de vitrola uma
caixa vazia de sabão Campeiro na qual rodava discos de papelão cantando para
minha outra nonna (Agnesa) ouvir.
Mais tarde meu pai comprou uma vitrola
de verdade e com ela os primeiros bolachões em 78 rpm: A Ilha das Lágrimas (música
muito triste cantada em italiano que levava meu pai, em geral durão e
circunspecto, até as lágrimas e que, apesar de muito pesquisar, nunca consegui
encontrar), canções de Nicola Paone alegres (Ue, Paesano/Signora Maestra)
ou tristes (Babbo, si me vuoi benne, damme la mamma mia).
Certo dia ele chegou com dois discos
que continham o Bolero de Ravel em
três dos lados e O Poeta e o Camponês no quarto lado. Aquilo foi uma
revelação para mim e posso dizer que essa foi a minha verdadeira entrada para o
mundo maravilhoso da música.
As novelas da Rádio São Paulo que minha
mãe ouvia eram recheadas de músicas dramáticas para embalar as emoções que elas
queriam transmitir e muito mais tarde descobri que muitas dessas músicas
pertenciam a obras de Tchaikovsky e, quem diria, Mahler!
Preciso confessar que a descoberta da música
clássica tem muito a ver também com os dois LPs ‘S Concert de Ray Conniff que apresentavam versões pobres e
popularescas de grandes obras clássicas, mas que me despertaram a curiosidade
para procurar conhecer essas obras no original.
E a memória vai trazendo outras
situações onde a descoberta de certas músicas me trouxe grandes surpresas e
alegrias.
Como não se lembrar da primeira vez que
ouvi as canções de Edu Lobo, Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal ao assistir
extasiado a Arena Conta Zumbi em
1965? E no mesmo ano a descoberta de Chico Buarque com a trilha de Morte e Vida Severina?

Em 1967, a antológica encenação de Marat/Sade por Ademar Guerra vinha
acompanhada da magnífica trilha de Richard Peaslee, curiosamente não creditada
na ficha técnica do espetáculo. Segundo Yan Michalski “essa música ocupa um lugar de enorme destaque dentro do espetáculo,
sendo mesmo responsável por uma parte importante de sua magia”. Durante anos cantarolei essas canções, até que tive
acesso à sua versão original presente no filme homônimo de Peter Brook.
Em 1971 levei um gravador portátil no Circo Irmãos Tibério para gravar as belas músicas de Múrilo Alvarenga Júnior que compunham a trilha de O Evangelho Segundo Zebedeu de autoria de César Vieira.
Encantado com a trilha de O Balcão, a encenação histórica de
Victor Garcia realizada por Ruth Escobar em 1970, tive que fazer uma
peregrinação por lojas de disco (as saudosas Breno Rossi e Bruno Blois) para
descobrir que se tratava da Missa da
Coroação de Mozart.
De uma maneira ou de outra tenho todas
essas músicas comigo para ouvi-las e relembrar os grandes momentos em que tomei
conhecimento delas. Uma exceção e grande frustração é a hipnótica trilha de O Terceiro Demônio (1972) de Carlos
Hartlieb e Hermes de Aquino que não foi gravada e que nunca mais tive acesso.
Recordo-me agora de outra trilha potente realizada com instrumentos de
percussão curiosamente composta por um italiano, Frederico Pietrabruna,
encenador do estranho e malogrado Os
Gigantes da Montanha em 1969;
esta também só ficou na lembrança (eu havia feito uma gravação amadora da mesma
que se perdeu entre tantas fitas cassete que me desfiz)

Em relação a gravações amadoras realizadas
dessa maneira em salas de teatro ou de cinema, fiz o mesmo com a trilha do
filme Um Dia, Um Gato (1963). Essa música (um dos mais belos solos de fagote que já
ouvi em toda minha vida) tornou-se uma verdadeira obsessão e cinquenta anos
depois eu ainda estava procurando por ela em lojas de disco de Praga quando
visitei a República Tcheca em 2002. Tudo em vão. Pouco reprisado no cinema, só
realizei meu sonho quando foi lançado o DVD com o filme que chego a colocar no
DVD player só para ouvir a música
durante os créditos iniciais.

Em 1985 foi a vez de descobrir outra
maravilha. Uma música mágica era o fundo musical da entrevista com Jorge Luis
Borges realizada por Walter Salles para o programa Conexão Internacional na extinta TV Manchete. Que música era aquela?
A Mariana lembra que dias depois ao assistir ao filme Koyaaniskatsi junto com ela no antigo Cine Majestic (hoje dividido
nas três salas do Espaço Itaú-Augusta) em certo momento eu dei um pulo na
poltrona e exclamei que aquela era a música que eu estava procurando. Vi nos
créditos que se tratava de Philip Glass e a partir daí virei um grande
admirador dele e da música minimalista.

Em 1989 reencontrei a emocionante música
dos filmes bíblicos tão em voga nos 1950. No memorável e incomparável Paraíso Zona Norte, Antunes Filho ilustrou os dramas das personagens
rodrigueanas Zulmira e Tuninho de A
Falecida e Seu Noronha, Aurora e Silene de Os Sete Gatinhos com
músicas de Os Dez Mandamentos, Ben-Hur e O Manto Sagrado e é inacreditável que mistura tão insólita tenha
dado tão certo.
Da icônica Walk on the Wild Side de Lou Reed eu tomei conhecimento no Rio de
Janeiro em 1995 coreografada pela divina Eloina no show de travestis A Noite dos Leopardos.
Que eu me lembre a última música que
conheci através de uma peça de teatro foi a linda Why Does My Heart Feel So Bad de Moby que ilustrava magnificamente
a emocionante cena final de Os Sete
Afluentes do Rio Ota em 2003.
Gonzaguinha dizia que a arte da vida
está em sermos eternos aprendizes e eu nos meus 76 anos quero ainda muito me
surpreender com o que a arte tem para me oferecer, quer seja através da música,
que é o objeto desta matéria, mas também do teatro, do cinema, da dança, da
literatura, das artes plásticas, da fotografia e da escultura.
Vivemos tempos difíceis, mas como
escreveu Nietzsche, a arte existe para que a realidade não nos destrua.
ARTE É CULTURA!
18/04/2020